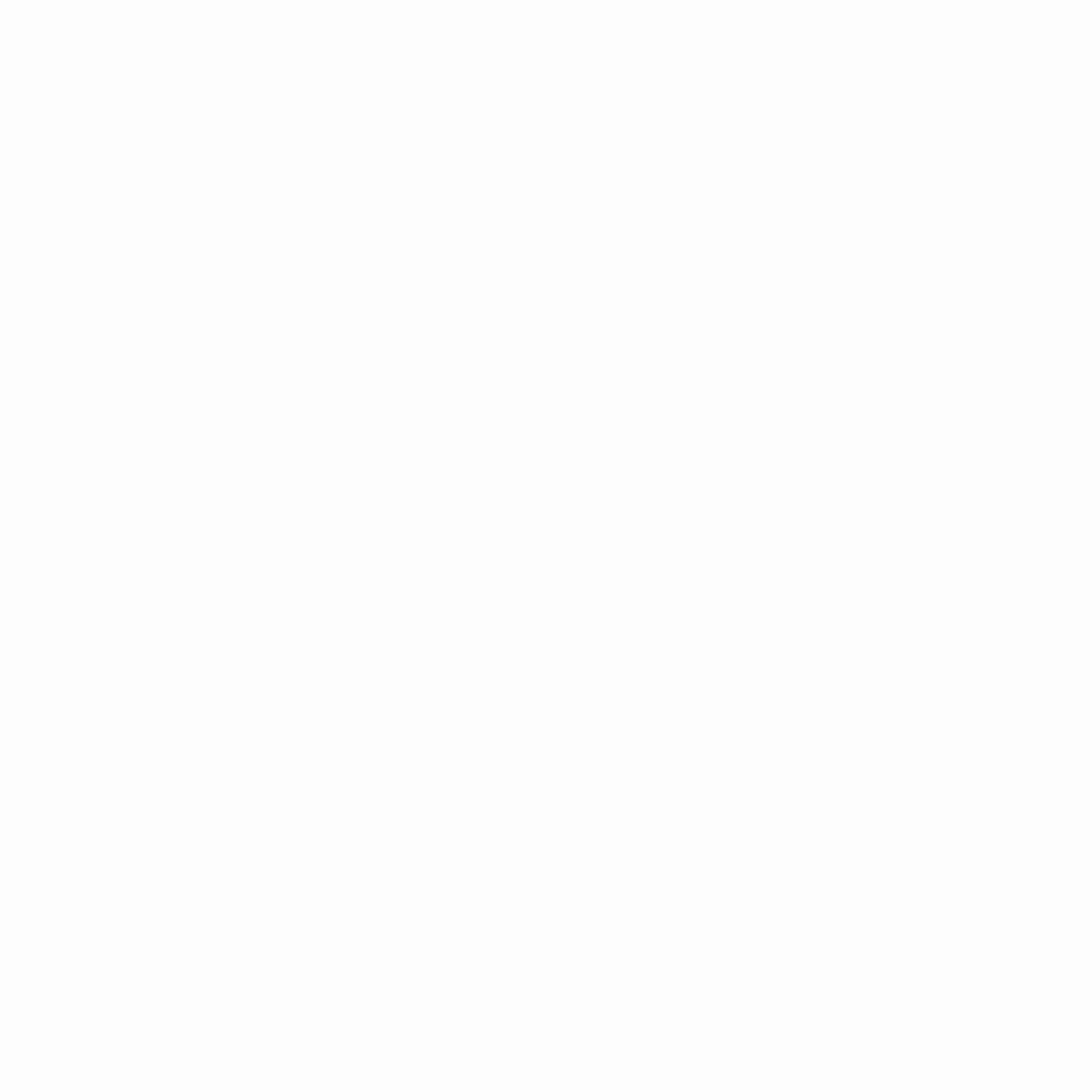Share This Article
Por Erazê Sutti
Vivemos tempos de crise política, de descompasso entre representantes e representados. E isso nem é exclusividade do Brasil, dados os fatos recentes nas eleições americanas e no Brexit – só para citar dois casos de maior repercussão internacional. E isso nem é problema atual, tem longa e silenciosa história.
Pois é. A mesma retórica de criticar os políticos representantes como causa da falta de representatividade diante da diversidade da sociedade, parece não ter forças para resolver essa questão e nem demonstra qualquer viabilidade intrínseca para alguma saída.
Da mesma forma, não se demonstra suficientemente capaz de resolver essa dissonância a mera capacitação para suprir a chamada carência de “consciência política” – ao menos, quando esta se refere, apenas e tão somente, à consciência de informações meramente eleitorais.
Proponho um desafio diferente. Refletir sobre o pensamento popular político a partir da mudança de poder e de cultura política surgida, principalmente, das Revoluções Burguesas, pelas quais o poder e sua sucessão deveriam sair da linhagem familiar para atender uma sociedade representada por um mercado, uma sociedade que escondia a exploração atrás de regras ilusionistas da meritocracia – e assim foi se formando uma peculiar fórmula de identidade social.
A cultura burguesa embasada no conceito da meritocracia fantasiosamente autossuficiente, ou seja, independentemente das condições pessoais e sociais, adestrou o inconsciente coletivo para o consumo social, onde todos poderiam “vencer na vida”, desde que tivessem o tal “mérito”.
Tem-se o consumo político e social, que, como consequência, macula a identidade social, o conceito de reconhecimento mútuo nas raízes da comunidade e no lastro das relações entre as pessoas de uma mesma classe.
Enquanto o dilema entre o consumo político e social ocorria permeado com as raízes culturais da comunidade nativa, os conflitos na busca pela identidade tinha parâmetros balizadores para avaliar as ações pela representatividade.
Contudo, com a globalização, o sentimento de pertencimento na grande maioria das comunidades foi perdendo as últimas raízes fortes o bastante para blindar a cultura local, o cidadão foi perdendo seu lastro na comunidade para ganhar o conceito de morador do planeta.
E a força motriz dessa roda consumista na representatividade vem do poder do capital e da necessidade de concentrar a influência na exploração dos outros.
Não é à toa que a riqueza no planeta se concentra, dia após dia, nas mãos de menos pessoas, dado que 1% da população mundial tem mais riqueza do que o restante da população (99%).
E não é à toa que, cada vez mais, há quantidade maior de pessoas que não querem mudar a situação de seus pares, mas querem melhorar apenas a sua situação! E isso para sentir o poder da ascensão social – é um círculo vicioso de exploração que sustenta a regra da concentração de renda com base na invisível imobilidade das castas sociais e na ausência de identidade social.
Dessa fórmula se tira algumas contradições inusitadas: a identidade de consumo se nutre do egoísmo competitivo e se atrela na ilusória meritocracia como contraponto à própria comunidade ou classe social; a luta de classes dá lugar à fantasiosa e falsa mobilidade onde camadas sociais são meros estágios da evolução social, etapas do jogo da vida; o conceito de classe na relação capital/trabalho se esfarela quando o trabalhador se coloca na condição de empreendedor em potencial, mesmo assalariado e explorado em sua mão de obra submissa friamente ao lucro, a ponto do trabalhador defender os interesses do patrão nas faces da política econômica!
Neste cenário confuso, não é surpresa pra ninguém que muitas das pessoas pobres não querem melhorar a condição de vida de seus pares, mas, ao contrário, querem “subir na vida” para ser o explorador do andar de cima e ter a “satisfação” de consumir o status no degrau superior, que só faz sentido – pasmem! – mantendo-se o degrau de baixo.
E um dos ingredientes mais poderosos desse esfacelamento da identidade é o preconceito; e dos mais variados tipos, todos vetores de desunião intrínseca, que proporcionam o conflito dentro das classes populares; disputas propícias para impedir a união entre os pares e a consciência política de cidadania, não apenas eleitoral.
Na sociedade de consumo, o que vale é o produto, e com ele a sensação de poder (no sentido de posse), como um vício. E nada melhor do que tolher a alma do outro, das pessoas, para facilitar o jogo de consumo. E o preconceito torna as disputas paralelas presentes dentro da comunidade, dentro das casas, dentro da família, seja pela disputa dos homens contra as mulheres, seja pela discriminação pela raça, pela cor, pela opção sexual … dentre outras tribos.
A luta interna enfraquece o olhar para fora, frauda a consciência necessária para a efetiva luta de classes e impede a união da população para que se busque uma sociedade mais justa e menos desigual. Essa é a salada ideológica que torna viável o falso “eu”, que, por sua vez, gera a crise de representatividade.
Como se falar em representatividade se o falso “eu” não pensa com identidade de classe ou, nem mesmo, de comunidade?
Quantas mulheres oprimidas são machistas? Quantos negros são homofóbicos? Quantos gays são preconceituosos contra negros? E quantos gays e pobres não gostam dos nordestinos? E quantas mulheres negras e pobres só votam em homens, brancos e ricos?
E como superar o “discurso único” e provocar o debate? Como disseminar os pilares da consciência política sem combate o caráter de consumo das relações sociais? Como fomentar a vital representatividade política contra essa crise de identidade? Como semear e colher a essência e a consciência da identidade para combater o falso “eu”?
Xeque-mate? Provavelmente, não. Talvez seja o caso de romper as conexões da manipulação – com a realidade imitando a arte, rompendo com os cabos ilusórios e famosos na ficção Matrix, um a um, pessoa a pessoa, tal qual se forma uma comunidade da raiz.
A humanidade necessita se reinventar começando por questionar suas próprias regras suicidas e seculares: quanto vale uma vida para justificar o capitalismo que mata e que proporciona a menos de 1% da população mundial ter mais riqueza do que os demais 99%?
Quem é você?
 Erazê Sutti – advogado, formado na Turma de 1996 da Faculdade de Direito pela USP (Largo São Francisco); conselheiro pela OAB no COMPAC (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural) desde 2013; membro fundador do NEAF, Núcleo de Estudos Adamastor Fernandes.
Erazê Sutti – advogado, formado na Turma de 1996 da Faculdade de Direito pela USP (Largo São Francisco); conselheiro pela OAB no COMPAC (Conselho Municipal do Patrimônio Cultural) desde 2013; membro fundador do NEAF, Núcleo de Estudos Adamastor Fernandes.
LEIA TAMBÉM
O planeta de um único partido. Afinal, quem é o responsável?